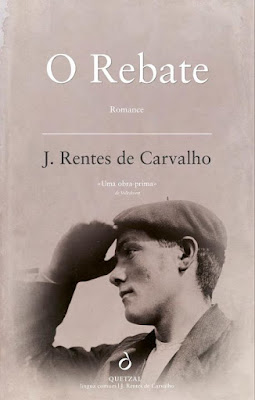O Rebate é um
romance de 1971, de J. Rentes de Carvalho, reeditado em 2012 pela Quetzal.
Trata-se de uma descontrução cruel da mitologia da vida na aldeia, das
virtudes do ruralismo tão incensadas pelo regime do Estado Novo. Ao mesmo tempo
é uma encenação dos equívocos do reconhecimento de si. O autor explora a tensão
entre a comunidade rural, a aldeia, e o emigrante que retorna para sublinhar e
ver reconhecido o seu triunfo social em terras de França.
1. Um universo
distópico
O paternalismo salazarista - esse prolongamento de uma certa
cultura portuguesa bastante antiga - erigiu o mundo rural como arquétipo da
bondade, uma espécie de antecipação do paraíso, onde a vida virtuosa dos homens
não seria contaminada pelas tentações das metrópoles, esses lugares de perdição
por excelência. Rentes de Carvalho, porém, ilumina o espaço rural e permite
percebê-lo na sua realidade. A aldeia não é o espaço de uma vida feliz, não é a
materialização de uma utopia. De facto, tal como é retratada pelo autor, ela é
uma ilha. Ilha significa, contudo, uma espécie de espaço cortado com o mundo
que, no seu isolamento, gera um modo de vida absolutamente distópico.
A avidez, a inveja, a vigilância contínua sobre os outros e
uma sexualidade recalcada e, ao mesmo tempo, exuberante no seu desejo, tensa
nas mitologias que a compõem e lhe dão sentido, criam uma atmosfera opressiva,
perversa, onde a iniquidade dos actos é moeda corrente. Sem praticamente
referir a situação política do país - há uma alusão na figura do padre que
abandona o sacerdócio e que o narrador deixa perceber que talvez existam
motivações políticas nesse abandono - a aldeia de O Rebate não é apenas a desconstrução da aldeia mítica da
nossa infância, mas também a construção de uma imagem do país, da natureza
moral da vida comum, da violência surda, mas activamente presente, que percorre
o viver comunitário.
Não há grandeza nas personagens, apenas cálculo de
oportunidades, enorme tensão proveniente das paixões comuns dos homens e um
exercício contínuo de dissimulação. Nesta ilha rural, a autenticidade das
intenções, a veracidade dos actos e a verdade das palavras foram substituídas
por uma arte ficcional, cuja finalidade é dissimular, esconder dos outros,
abrir o caminho para obter uma vantagem - sexual ou financeira - pela surpresa
e pelo engodo. É a este universo cruel e mesquinho que retorna Valadares, o
emigrante que acabou por enriquecer em França através do casamento com uma
francesa.
2. Os equívocos do
reconhecimento
Rico e casado, Valadares retorna para a festa da aldeia em
busca do reconhecimento de si e do seu triunfo. Volta para resgatar a derrota
social de ter de emigrar, de ter de ir buscar fora da aldeia os bens materiais
que, eventualmente, lhe assegurariam a admiração da comunidade e a prestação de
vassalagem que o dinheiro deveria trazer consigo. Também o retrato de Valadares
é cruel. A emigração e o triunfo social não representam qualquer transformação
interior. O universo que o move é o mesmo que tinha à partida, o desejo que o
empurra para a aldeia não é diferente daquele que o levou a partir. Ser um
entre os outros, ser como os outros, embora mais importante, porque mais rico,
que os outros.
Em França aconteceram-lhe coisas - um casamento com uma
rapariga estouvada, segundo os modelos da aldeia, arquitectado pelo sogro, e
com esse casamento veio o dinheiro - das quais não foi efectivo protagonista e
que não tiveram impacto interior, não mudaram a sua forma de ver o mundo, não o
libertaram das pequenas mitologias aldeãs com que tinha crescido. É este casal
inesperado que é transportado para o universo fechado da aldeia transmontana.
Ela vinda de um mundo radicalmente diferente, um mundo que não lhe permite
sequer compreender a natureza daquele onde cai. Ele persistindo no que era,
trazendo apenas apontamentos dessa vida em França não como manifestação de uma
mudança de si, mas como forma de sublinhar a sua nova importância no universo
social da aldeia.
A estranheza de Louise, a mulher de Valadares, e a riqueza e
pretensões deste vão chocar com o mundo organizado e estruturado da aldeia. A
dissonância do casal não conduz à interrogação das consciências e à
confrontação com outras formas de habitar o mundo, mas ao exacerbar das
atitudes arcaicas e ao reafirmar das práticas perversas que confirmam a solidez
da identidade cultural daquela comunidade. A cena da explosão do cio colectivo
provocada por Louise ilumina essa perversa solidez identitária. A fuga do
casal, envolto no mais puro ridículo, é o resultado final a que conduziu a
equívoca busca de reconhecimento do pobre emigrante, daquele que, apesar de
algumas aparências diferentes, se mantém estruturalmente fiel ao universo de
onde partiu, universo que, contudo, já não o aceita. Abel Valadares é uma
figuração de uma demanda de si condenada ao fracasso, pois baseada apenas em
factores de ordem social e no retocar da máscara. Retocada esta com elementos
estranhos, a comunidade apenas detecta a dissonância e, movida pela sua
natureza cruel e impiedosa, pulveriza as pobres pretensões do emigrante bem
sucedido.
3. Uma visão de
Portugal
Quem conhecer um pouco da História de Portugal não pode
deixar de estabelecer uma curiosa analogia entre o casal Valadares e a história
dos estrangeirados na cultura portuguesa. De tempos a tempos, a natureza
castiça da nossa cultura - científica ou literária - era desafiada pelos
chamados estrangeirados. Estes traziam uma novidade, mas esta caía num meio que
em vez de ver nela um desafio que propunha renovação e metamorfose, apenas
procurava assimilá-la de forma a que não alterasse o fundo do casticismo
vigente. De certa forma, Louise é essa imagem de uma novidade desafiante ao
nível dos costumes e da economia do desejo. A forma como foi acolhida é uma
bela alegoria das dificuldades que, durante muitos séculos, teve a cultura
portuguesa de dialogar com o universal proveniente de outras paragens.
O Portugal de O
Rebate vem na continuidade do Portugal de A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Onde, todavia, Eça
mitifica e prodigaliza de virtudes essa cultura particular e castiça, Rentes de
Carvalho desconstrói e manifesta a sua natureza distópica e totalitária. Esse
Portugal ruralizado não é apenas um país tecnologicamente atrasado, mas um
universo mesquinho, cruel e doentio. O
Rebate é, em última análise, o diagnóstico, com a crua exposição dos
sintomas, de uma doença que corrói o país.
Fará ainda sentido, passados 40 anos da publicação original
e com as transformações sociais e políticas que ocorreram, ler Portugal através
desta obra? Se se abandonar a descrição totalitária e nos concentrarmos na
natureza da cultura, descobrimos que, para lá do verniz que os mass media e a integração na União
Europeia trouxeram, dificilmente se deixa de ser aquilo que se é. Os campos
despovoaram-se, as cidades encheram-se, bem como as escolas e as universidades.
Isso significa, porém, que o campo invadiu a cidade, tomou conta das escolas e
transformou a universidade naquilo que se vê nas Queimas das Fitas, nos
espectáculos de música pimba que tanto alegram os nossos estudantes e nas
monumentais bebedeiras a que se entregam. A aldeia desapareceu para invadir
tudo e de tudo tomar conta. A dinâmica da perversidade que Rentes de Carvalho
retratou disseminou-se e age difusamente até naqueles sítios onde a
imparcialidade e a universalidade deveriam ser a pedra-de-toque.